O que sobra quando se tem um comprimido para tudo?
Nada mais nos tira o sono. Não por muito tempo. Estamos sempre a algumas gotas de uma noite tranquila. O "durma-se com um barulho desses" perdeu o sentido, já que qualquer barulho pode ser superado pelo comprimido certo. Crises matrimoniais, preocupações financeiras, angústias relacionadas ao trabalho não são mais estímulos suficientes para nos tirar o sono. Há remédio para tudo.
Nenhum problema é tão relevante a ponto de nos fazer perder tempo pensando em estratégias para resolvê-lo. Há na gavetinha da mesa de cabeceira a poção mágica silenciadora de todas as vozes que antes não nos deixavam pregar os olhos.
Nossa incapacidade de lidar com as frustrações, dores e sofrimentos vem atingindo níveis preocupantes. Dos últimos três velórios de familiares próximos que acompanhei, em todos fui questionada se teria na bolsa um remédio para aliviar o choro de alguém. Estamos incomodadíssimos com a dor. Não toleramos qualquer grau de tristeza. Passamos a demandar comprimidos para maquiar a vida. Pois se uma mulher não pode se esgoelar ao perder o companheiro que estava doente, o que ela pode fazer, afinal? Não é elegante o suficiente chamar por ele a beira do caixão? Chorar fazendo barulho? O pessoal da empresa onde ela trabalha pode achar inadequado? Afinal, qual o problema em sentir?
Certa vez uma paciente me confidenciou que logo após a confirmação da morte de seu marido, a irmã lhe fez tomar um "calmante". E assim foi fazendo cada vez que a viúva demonstrava já estar retomando as rédias do seu corpo e das suas emoções. Foram quatro durante todo o velório e sepultamento. Seis meses depois, ela não conseguia se lembrar de muitas coisas daquele dia e sentia por não ter tido a oportunidade de se despedir do seu esposo plenamente consciente de tudo que se passava.
Lembro-me também de uma amiga querida a contar sobre a jornada de seu parto natural depois de ter sido submetida a duas cesáreas no nascimento dos seus primeiros filhos. Quando ela gritava na tentativa de aliviar as fortes dores trazidas pelas contrações, sempre alguém lhe oferecia anestesia. Ao que ela respondia aos berros:
"Me deixa sentir! Eu quero sentir!"
Profissionais de saúde são treinados (eu diria até doutrinados) para a intervenção, especialmente para a intervenção farmacológica. Ver um paciente em sofrimento no consultório, chorando e contando sobre um evento que o impactou e não terminar a consulta prescrevendo um antidepressivo é quase uma heresia, mesmo que as evidências científicas não mostrem qualquer diferença relevante entre o remédio e um placebo no tratamento da depressão leve e até da moderada. E aqui vale uma pausa dramática: julgamos absurdo não prescrever um comprimido ou dois, mas achamos normal não encaminhar o paciente que sofre a uma psicóloga, por exemplo. Percebe a incoerência? Não são só as pessoas que não mais toleram sofrer. Muitos profissionais de saúde não conseguem sequer incentivar que o paciente busque um aprofundamento, mínimo que seja, desta reflexão a respeito do que provoca o sofrimento para que encontre novos caminhos, novas respostas que vão além das medicações.
Eu nem saberia calcular a quantidade de pacientes que já encontrei tomando antidepressivos e medicamentos para dormir há 20, 30 anos, nas unidades de saúde onde trabalhei, sem nenhuma avaliação, nenhuma provocação, nenhuma crítica sobre uma prática tão indiferente e negligente como esta.
Quando se levanta a voz para alertar sobre esses tempos de medicalização da vida, somos massacradas por outros profissionais que nos acusam de incentivar as pessoas a pararem de usar seus remédios. Longe de mim! É impossível dizer, sem conhecer profundamente a história e as queixas de um paciente, que ele deve abandonar seus comprimidos. Assim como é impossível saber se, de fato, um paciente precisa receber medicamentos sem o ter escutado e sem ter dedicado a ele tempo suficiente para que pudesse falar não só da dor mas do caminho psíquico que ele percorreu na construção daquele sintoma.
O fato é que estamos nos anestesiando para a vida. Ou melhor, para não sentir a dor e a delícia que é viver. Estar vivo é, por vezes, feio, frio, doído, angustiante. Viver inclui perder grandes amigos ou familiares próximos, visitar doentes, frequentar um ou outro velório. Há coisas "impostáveis" nessa jornada da vida real.
E quando se amplia o olhar para entender que grande parte do nosso sofrimento ou adoecimento físico e psíquico está intimamente ligada a questões estruturais e ao modo como nos organizamos em sociedade, medicalizar sintomas perde um pouco mais do pouco sentido que tem. Classe, raça, gênero. Não são só os vírus, as bactérias, o açúcar e o cigarro que nos adoecem. Quem eu sou, quanto de dinheiro eu tenho, a cor da minha pele, a direção do meu afeto e da minha sexualidade, tudo isso é determinante para o adoecimento.
O homem de meia idade sai de casa às 5h, pega dois ônibus lotados, chega no trabalho às 7h, trabalha pesado, almoça marmita de comida barata, sai às 5h da tarde, chega em casa às 7h da noite, toma um banho, bate um prato de arroz, feijão, farofa, batata e ovo e dorme até o dia seguinte para acordar de madrugada outra vez. No final do mês, o salário chega e vai-se embora em menos de uma semana.
Sabe como a gente trata isso? Com remédio para a pressão, para o diabetes, para aliviar as dores do estômago e na cabeça. Ele não tem tempo pra se exercitar, não tem tempo para lazer, para descanso, para passear pela cidade. Não tem dinheiro para comprar alimentos razoavelmente saudáveis e muito menos um momento livre do dia para prepará-los. Sendo assim, incluímos logo na receita médica mais dois ou três comprimidos para este pobre coitado. Nada falamos sobre o quão injusto é que ele precise literalmente se matar para ganhar um salário que mal dá pra ele e sua família sobreviverem.
Aprendemos a tratar pobreza e desigualdade com comprimido para matar verme ao invés de construírmos um projeto de nação que inclua saneamento básico universal.
A criança não convive com os pais por que eles trabalham 10, 12 horas por dia. Ela, por sua vez, passa 8 horas na escola. Em casa, não pode sair por conta da violência. Passa 6 horas por dia alternando entre TV, celular e computador. Não pratica esportes coletivos ou brinca com os colegas por que a pracinha do bairro é ponto do tráfico. Aí a criança começa a apresentar problemas na escola, e as primeiras sugestões para medicalizá-la partem muitas vezes dos próprios educadores. "Marque consulta com o neurologista. Peça a ele uma ressonância e uma receita de remédio para déficit de atenção." Só assim para elas não reagirem a esta vida ruim.
E eu já ia me esquecendo de dizer que também não toleramos crianças diferentes. Precisam ser todas parecidas até no comportamento.
Eu ouço todos os dias as angústias dos pais que se questionam: "O que será deste menino se ele não estudar?" É um desespero (compreensível) para encaixar os filhos em um padrão que a sociedade enxerga como normal, não importando muito o preço que isso vai custar e quem vai precisar pagá-lo. Mais importante que questionar se a medicação traz riscos é transformar o filho nesta criança que fica sentada e passa de ano para assim crescer e achar um emprego que lhe pague um salário e permita a sobrevivência do seu corpo, mesmo que sua alma tenha se perdido pelos corredores da escola.
Outra coisa que amamos fazer é tratar machismo e racismo com antidepressivo. É mais fácil carimbar uma receita que entender a dor de uma mulher negra, pobre e periférica que viveu a vida toda sob o jugo massacrante das opressões que a impediram de desenvolver suas habilidades, de estudar e de ser quem ela sonhou ser. Não fomos capacitados para isso. Nossa formação profissional passou longe de considerar raça, gênero e classe como determinantes no processo de adoecimento. Aliás, a gente ama dizer que é "mimimi".
Quando me chegam destruídas e desoladas as mães pretas que perderam seus filhos mortos ou encarcerados pelas mãos do estado, aquele mesmo estado que não lhes garantiu absolutamente nada, nem escola, nem saúde, nem direito trabalhista, eu me pergunto: "Desde quando esta mulher precisa de remédio, gente? Ela precisa é de um país. Precisa de democracia!"
Sempre haverá o dedo acusador que aponta a lança em seu peito e solta um "será que esse menino não trabalhava para o tráfico?" Como se isso também não fosse parte do plano. Empobrecer, encurrar nos becos, eliminar oportunidades de uma vida melhor e depois matar ou prender. Sabe… A gente também cansa…
Nem sei se vocês estão me acompanhando ainda. Isso aqui está parecendo um desabafo de boteco…
Veja bem: uma mulher casada que é estuprada diariamente pelo marido violento e abusivo é um caso complexo demais para caber no nosso fluxograma de tratamento de depressão. Nos treinam para prescrever medicamentos. Como se, por um simples acaso, esta mulher ficasse deprimida. Assim, como num passe de mágica. Como se quem sofre não fosse um ser complexo, profundo, que carrega uma história. E a gente dá de ombros! "Não é problema meu! Eu sou só médica. Que contratem uma psicóloga, um antropólogo, uma socióloga."
Nos formamos pomposos atacadores de sintomas. O casamento vai mal, o trabalho me adoece, a convivência em família é caótica, mas eu resolvo tudo com meu antidepressivo e meu remédio para dormir. A falta de desejo sexual é tratada como algo puramente orgânico. Não se discute sobre a qualidade dos relacionamentos, sobre as violências naturalizadas, nada disso. Tome logo um gel vaginal a base de estrógeno, vamos fazer reposição hormonal. Se for homem, tome esse comprimido que vai te fazer transar por uma hora seguida e bola pra frente.
É difícil dizer para o jovem usuário de medicamentos para impotência que há mais complexidade por trás de seu órgão sexual falho do que sonha a sua vã gana de superar os homens potentes e musculosos que ele vê violentando mulheres nos sites de pornografia. Questionar suas emoções, seus desejos, sua forma de ver o mundo e de olhar para o corpo feminino e para a mulher dá muito trabalho.
Uma amiga médica me contou que costumava convencer os pacientes gravemente deprimidos a usarem a medicação comparando os comprimidos a uma muleta. "Quando quebramos a perna, colocamos o gesso e usamos muleta até que o osso cole e a gente possa andar normalmente outra vez." Sempre achei aquela fala poética e inventei de acrescentar aos meus pacientes: "Depois que o osso cola a gente não precisa mais sair andando de muleta por aí". Era uma tentativa de sinalizar que haveria um fim para aquela intervenção.
Gostava de dizer também: "Não adianta usar muleta se não colocar o gesso, se não fizer fisioterapia. Nossa muleta é o remédio. Nosso gesso é a psicóloga. Nossa fisioterapia é o contexto onde vivemos, a nossa família, a igreja, o terreiro, a atividade física. Tudo é importante, pois não podemos sair por aí de muleta balançando a perna quebrada, toda torta, com o osso pra fora."
Aos pobres e até para grande parte da classe média baixa que hoje se tornou involuntariamente dependente do SUS, só resta aceitar as muletas. Não há nada além de remédios para aliviar seu sofrimento. Esperar por um atendimento psicológico leva uma vida inteira. Resta a droga lícita que se pega na farmácia do posto e, muitas vezes, a igreja, único canto onde se sente acolhido. Quanto pior a vida que ele leva, mais bonito e interessante lhe parecerá o paraíso.
A saúde está longe da prática médica atual. Com frequência promovemos doenças e silenciamos dores que nossos pacientes precisavam que fossem ouvidas. Individualizamos as dores que são coletivas e colocamos sobre o indivíduo a responsabilidade por se sentir melhor. Ao individualizar, despolitizamos o problema e ,consequentemente, sua discussão. Saúde sempre começa com justiça social, com acesso a direitos básicos, com garantia de direitos humanos, com saneamento básico, com mobilidade urbana, com segurança alimentar e com bem viver. O resto é conversa mole para indústria farmacêutica dormir.









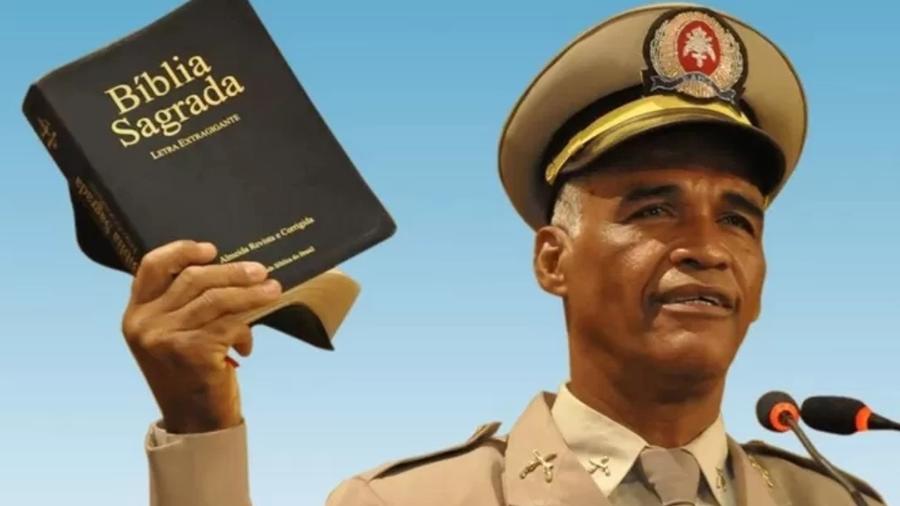





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.