Em Paraisópolis, a democracia não corre nenhum risco
Não estou me sentindo bem. Fisicamente, inclusive. Beira o impossível a missão inglória de manter a sanidade do corpo e da mente sendo uma brasileira mestiça, mãe de uma menina negra, casada com um homem negro. Paraisópolis me revirou do avesso e me tirou o sono nos últimos dias.
Não bastasse o horror sem tamanho que é acompanhar o desenrolar dos fatos que incluem a morte de nove jovens – NOVE – inocentes, lidar com o que nos tornamos como sociedade pode ser tão doído quanto.
Durante os últimos dias, precisei de estômago de avestruz para encarar os comentários das reportagens sobre o massacre ocorrido na comunidade paulistana. "Deixa a polícia trabalhar" foi dos mais doces que li. Como se deixar "a polícia trabalhar" implicasse necessariamente em aceitar de bom grado um rastro de sangue inocente a colorir de morte as vielas da comunidade.
"Santos não eram." Esse, eu li aos montes. O que me preocupou sobremaneira, já que "santos" não somos. Por esta lógica, podemos ser os próximos, não é mesmo?
Não, não é mesmo! A depender do tom da sua pele, do seu CEP e do CEP dos lugares que você frequenta, o tribunal que mora na ponta do cacetete do policial vai definir se você é um ser humano matável ou torturável.
Ver as cenas que invadiram nossas vidas nos últimos dias e bradar que a democracia brasileira está em colapso ou que corre risco é sinal de que não entendemos nadica de nada. É como dizer que um frango congelado dentro de um freezer corre risco de morrer. Para um Brasil imenso, democracia nunca existiu. Um Brasil que tem cor.
Pergunte a um índio ou a uma índia brasileira. Pergunte a uma mulher negra ou a um homem negro, mesmo que de classe média, se eles andam tranquilos pela rua. Pergunte a uma favelada ou a um favelado deste país o significado de ditadura.
Em momentos como esse, não é suficiente olharmos para o rosto do policial que bate com a barra de ferro nas pernas de um homem que usa muletas ou derruba com o mesmo instrumento o copo de bebida de um jovem que passa inofensivo e desarmado diante dele. É preciso que a gente olhe para cima. Para a estrutura que o autoriza e, mais ainda, o aplaude e o incentiva a ser assim. Quem manipula a marionete e o boneco que, por sua vez, invade o baile atirando e espancando jovens pobres que estavam ali para relaxar, tomar uma cerveja com os amigos e paquerar?
Estas violências são profundamente humilhantes e desumanizadoras. Viver sob o julgo de um estado sedento por morte, num país estruturalmente racista, é de tal forma adoecedor que estamos sucumbindo. Pisoteados, deprimidos, torturados, calados, asfixiados em nossa condição de seres sociais.
Há diversos países neste Brasil que habitamos. Em um, não há qualquer incômodo ou mal-estar quanto ao massacre de Paraisópolis. Em outro há o medo de que a barbárie bata a porta. E há um Brasil que ainda anseia conhecer a democracia.
Há quem diga que ditadura é quando acontece no asfalto, com o branco de classe média, o que acontece com o preto favelado em tempos de paz. Durma-se com uma barra de ferro dessas.









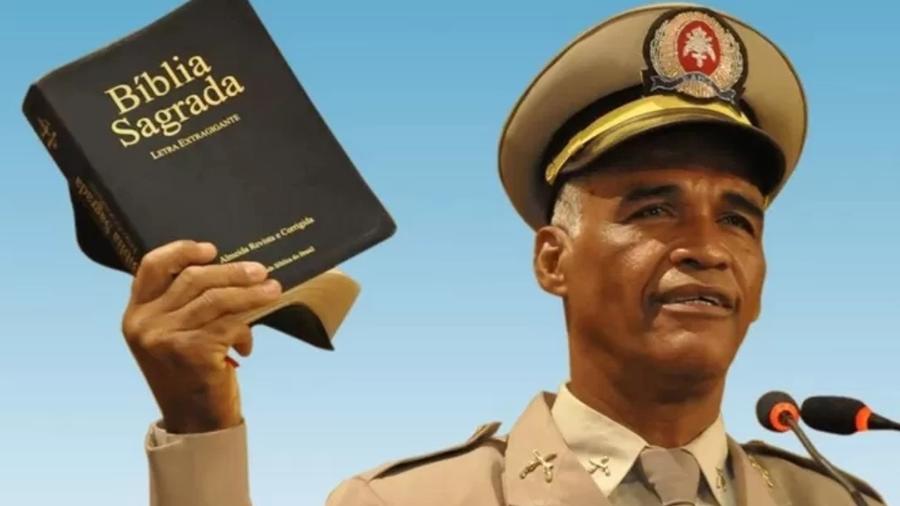





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.